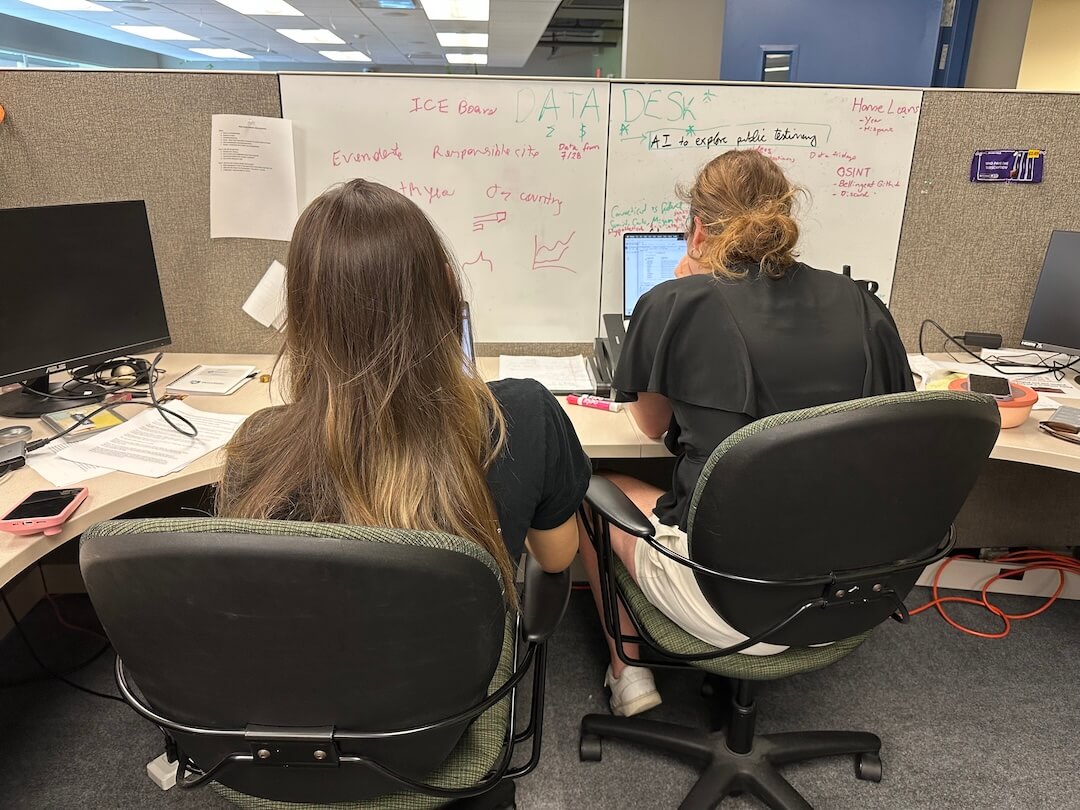Contextualizar as sondagens para evitar o risco de manipulação política e mediática
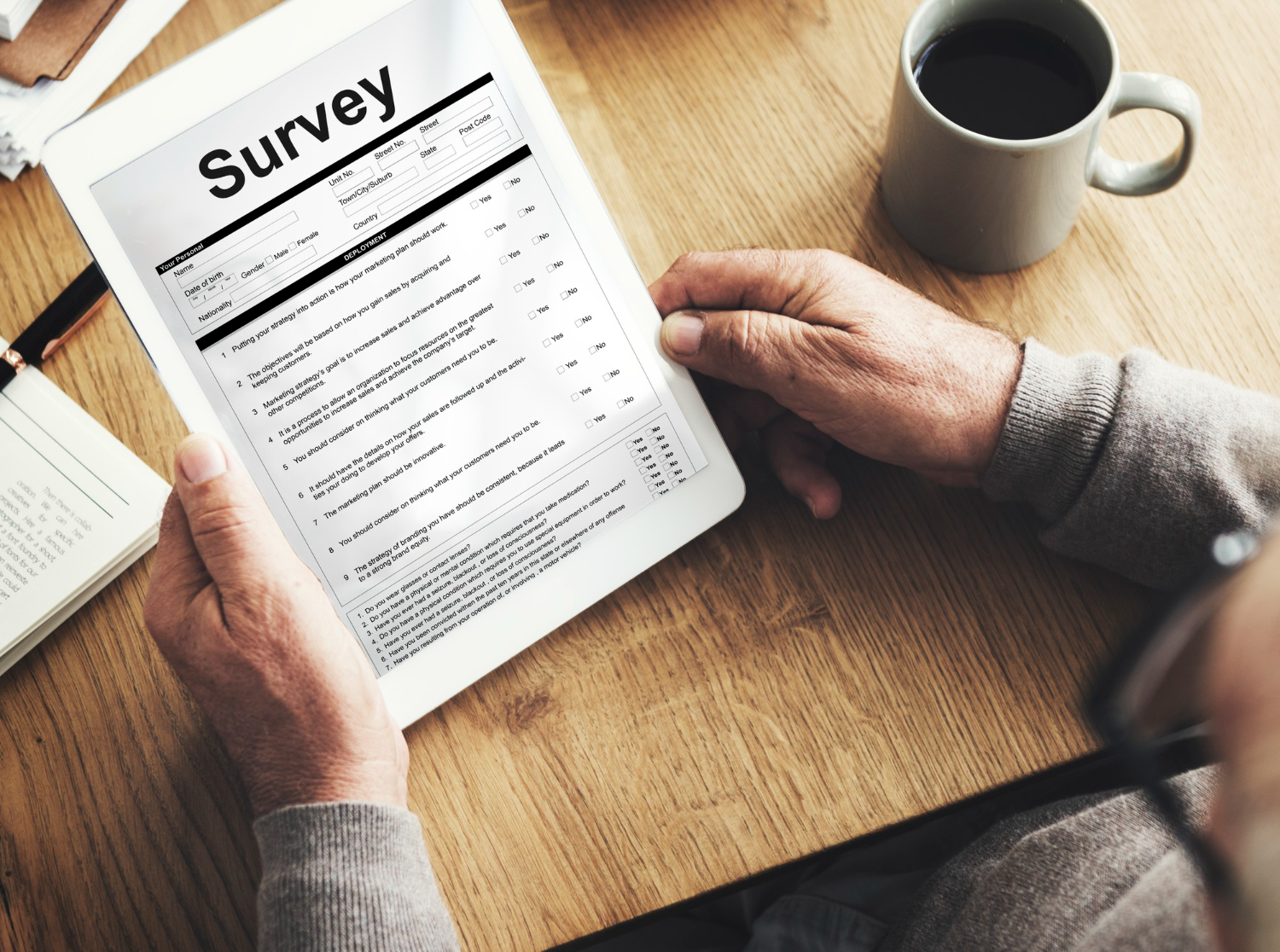
A proliferação de informação na internet e o avanço da inteligência artificial vieram alterar de forma profunda os critérios jornalísticos para definir o que é, ou não, notícia. Neste novo contexto, Carlos Castilho, num texto para o Observatório da Imprensa do Brasil, parceiro do CPI, considera que "a grande imprensa mundial ainda trata o resultado das sondagens como a expressão da realidade e, portanto, acima de qualquer suspeita. Mas investigadores como o inglês Steve Poole, especialista em linguagem na internet, acham que é necessário banir as pesquisas, especialmente as pré-eleitorais, para impedir que elas gerem desinformação”.
Desde o livro Opinião Pública, de Walter Lippmann, que se questiona a fiabilidade das opiniões populares sobre temas complexos. No entanto, em 1935, George Gallup transformou a preocupação de Lippmann num negócio, criando um modelo simplificado que dividia a opinião pública em categorias dicotómicas: certo ou errado, bom ou mau, vencedor ou vencido. Este modelo tornou-se dominante na imprensa global.
Carlos Castilho explica que, com o tempo, tornou-se evidente que essa simplificação distorcia a realidade, sobretudo perante a crescente volatilidade da opinião pública. A partir dos anos 1970, as sondagens passaram a ser usadas também como ferramentas de marketing político e comercial, patrocinadas por partidos, empresas e organizações com interesses específicos, o que enfraqueceu ainda mais a percepção da sua isenção.
Com o surgimento da internet e da inteligência artificial, a multiplicidade de versões sobre um mesmo facto intensificou os tons de cinzento entre os extremos. “Os meios tons entre o claro e o escuro multiplicaram-se como decorrência do aumento exponencial de versões sobre um mesmo dado, facto ou evento”, nota Castilho, afectando directamente a base dicotómica das sondagens.
“As sondagens deixaram de servir como indicador de tendências na opinião pública para funcionar mais como um instrumento para induzir atitudes e posicionamentos de formadores de opinião e tomadores de decisões. Ou seja, para manipular resultados de uma pesquisa para atingir um determinado objectivo particular”.
Neste cenário, o jornalismo precisa de assumir uma nova função: mais do que divulgar números, deve investigar os contextos, metodologias e interesses por detrás das sondagens. Um trabalho mutidisciplinar que exige tempo, precisão e uma noção dos princípios básicos da complexidade da informação na era digital.
Não se trata de banir as sondagens, mas de contextualizá-las. Como conclui Castilho, “a alternativa mais viável é a da contextualização dos resultados, algo que cabe especificamente ao jornalismo e à imprensa, actores insubstituíveis e essenciais na função de distinguir informação da desinformação.”
(Créditos da imagem: Freepik)